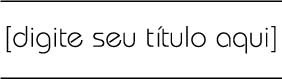Esse texto não é novo, postei no meu antigo blog. Pequenas modificações foram feitas, mas é basicamente o que me lembro de uma história já um pouco antiga...
50 (ou Umidade Relativa do Ar)
Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. A Novalgina no meu copo de água da torneira. Foi naquela outra noite, em que São Paulo tinha 13% de umidade relativa do ar. Estava toda no meu copo, a água de São Paulo. Não sei quantos dias sem chover. Eu estirada na cama, pensando que o Saara era assim mesmo. E antes que eu começasse a ver miragens, fui para o bar, onde a cerveja mataria minha sede e a respiração daquela gente deixaria o ar mais ameno. Calcei o sapato vermelho de salto alto e me arrependi, ainda no elevador. Contei os segundos de tortura voluntária a qual eu submetia os meus pés. Trinta, trinta e um, trinta e dois. Muito mais do que a umidade relativa do ar.
Trinta e três. Os passos contados do carro até o bar. A quantidade de pessoas que se degolariam por uma bebida gelada. Os goles da vodka de Luíza, até aquele minuto em que ela dava o trigésimo quarto e pedia outra dose. Sabe-se lá qual dose era aquela. Trigésima quinta? Sentei-me ao seu lado sem pedir licença:
– Alguma ocasião especial?
Ela nem olhou para o lado.
– Gosto de pensar assim. Por que você veio até aqui?
O ponto é apenas uma representação gráfica. Sua frase foi rápida e cortante. Talvez fosse melhor escrever sem pausa alguma:
– Gosto de pensar assim porque você veio até aqui?
Talvez sem a interrogação:
– Gosto de pensar assim porque você veio até aqui.
Dessa forma dou o sentido que quero. Com essa pequena licença poética, eu me sinto um pouco mais querida por ela:
– Não é a única que tem o direito de beber sozinha.
– Agora que você chegou, acabou de tirar o direito de ambas.
– Temos o direito de tomar cicuta. Mas você não faria isso, faria?
– É preciso coragem.
– Pra tomar cicuta?
– Não. Pra beber com você. Pra tomar cicuta é preciso muita covardia.
– Você não mudou nada.
– Você continua a mesma.
Essa parte já é mais difícil de editar. Não sei como isso poderia ser voltado ao meu favor. Prefiro pensar que a repulsa era gerada pela falta de domínio sobre o objeto desejado. Eu sendo o objeto. O desejo, implícito, formando uma barreira entre nós. Ou talvez a barreira fosse aquele que nem estava bebendo com ela:
– Cadê ele?
– Ele quem?
– O barman.
Sarcasmo nunca fora nosso forte. Eu mal o punha em prática e ela quase nunca entendia. Ingênua. Olhou para o barman e fez sinal para que ele me atendesse. Pedi uma cerveja porque sabia que ela odiava. E tentei deixar de ser sarcástica:
– O Pedro, é claro.
– Não estou mais com ele.
– Não?
Eu sorri, tentando não sorrir. Ela olhou em meus olhos pela primeira vez naquela noite. Só para constatar que eu ainda gostava dela. Vadia:
– Esconda esse sorriso.
– Não estou sorrindo, foi só um reflexo.
Silêncios não são apenas constrangedores. Raramente um silêncio me deixa constrangida. Eu reflito. Calada eu consigo ouvir melhor meus pensamentos e deixar que cada lembrança grite como se estivesse sendo torturada:
– Vocês já estiveram “não juntos” por algumas vezes. O quão “não juntos” vocês estão agora?
– O suficiente para eu beber sozinha.
Eu não sorri. Aborreceu-me muito aquela imagem. Doeu tanto pensar que alguma lágrima queria sair de seus olhos. Mas ela não deixava. Não na minha frente:
– Por que acabou dessa vez?
– Ele é uma criança.
– Então quando ele crescer...
– Quando ele crescer vai ser tarde demais. Não vou esperar tanto tempo.
Dezenove anos ele tinha. Achando-se melhor que eu porque tinha a Luíza. Querendo fazer amizade e marcar território. E eu rindo e pensando “Eu como a sua mulher, filho da puta. Mais do que você”. Ele desconfiava. Não tinha certeza só porque eu sou mulher. Mas pelo jeito que olhava para mim, eu sabia que desconfiava:
– E quanto a nós?
– Ainda existe esse pronome no seu vocabulário?
– Ainda existe no seu.
– Não agora. Nesse momento, somos eu e meu copo.
– Continua sendo um “nós”.
– Para você, seria um “vós”.
Trinta e seis, trinta e sete. Trinta e oito vezes em que ela me reduziu às cinzas, só com palavras. Não. Eu já perdi a conta, de fato:
– Você ainda não me disse para sair, então eu continuo aqui.
– Sou corajosa.
– Suas mãos trêmulas me dizem o contrário.
– Está frio.
– Não. Não está. Vinte e oito graus, treze por cento de umidade e um bar lotado em São Paulo. A
– É você que está me fazendo mal.
– Então porque você ainda não me disse para sair?
– É porque você me faz muito bem.
E ela me deixou na companhia do meu copo de cerveja. Abandonou até a sua vodka. A parte cômoda de amar uma mulher era que eu podia segui-la quando ela tentava se esconder no banheiro. Mas ela precisava daquele momento pra chorar suas lágrimas e voltar como se nada tivesse acontecido. Eu queria que ela se sentisse superior. Uma massagem no ego nunca é demais quando se está na merda.
Trinta e nove, quarenta. Quarenta copos sujos entregues ao barman, antes que Luíza voltasse ao seu lugar no balcão. Não notei nos olhos, nariz ou lábios, algum indício de pranto. Era mais forte do que eu imaginava. Era mais forte que eu:
– Vou pra casa.
– Quer uma carona?
– Você bebeu, não pode dirigir.
– Eu vou dirigir com ou sem você no meu carro.
Com ela no meu carro, eu correria menos risco, pensei. Talvez ela começasse a se sentir superior demais e eu me arrependeria de massagear tanto o seu ego:
– Você pode bater o carro, com ou sem mim.
Aposto que ela pensou “Melhor que seja sem mim”. Enquanto pagava a conta, lembrei de tudo que havíamos vivido juntas. Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três bons momentos. Os maus eu já não conseguia contar. Eram tantos:
– Adeus.
E ela passou esbarrando o braço em mim. O mesmo braço que eu puxei para poder beijá-la. Eu não estava totalmente sóbria. E ela não estava totalmente disposta a deixar ser vista beijando outra mulher. Ninguém percebeu, ninguém deu a mínima, ninguém, nem de longe, se importava. Mas ela sim. E foi ela quem saiu sem dizer nenhuma palavra. Foi assim que fodi com tudo e tive a certeza de que ela nunca mais falaria comigo.
Quarenta e quatro, quarenta e cinco. Quarenta e seis passos que ela deu até eu correr atrás dela. Mesmo com o salto alto. Dessa vez eu não lhe daria momento algum para chorar lágrima alguma. Dessa vez eu tinha o direito de saber o que se passava em sua mente. Gritei seu nome pela rua movimentada. Algumas Luízas desavisadas olharam para mim. Mas não a minha. A minha Luíza continuou andando, a passos cada vez mais rápidos. Cada vez mais longe. Quarenta e sete segundos até que eu conseguisse alcançá-la:
– Vai voltar pro Pedro agora?
Ela não olhou para mim. Eu achando que ela nunca mais olharia. Mas quando seu rosto se voltou contra a luz e contra qualquer orgulho, as lágrimas daqueles olhos finalmente se viram livres. Aumentando a umidade relativa do ar:
– Pedro é o caralho! Chega com isso! O problema não é o Pedro e nunca foi. Não tenta se isentar da culpa. Ela nos pertence.
E ela seguiu em frente sem nem secar as lágrimas. E eu voltei para o meu quarto, para minha cama. Para meu Saara particular. E continuei contando. Quarenta e oito, quarenta e nove. Cinqüenta. Conto até cinqüenta e ela volta pra mim antes disso.